Pasado Abierto. Revista del CEHis. Nº14. Mar del Plata. Julio-diciembre 2021.
ISSN Nº2451-6961. http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/pasadoabierto
Para compreender no século XXI as escalas e proporções do mundo antigo
Juliana Bastos Marques
Escola de História, Centro de Ciências Humanas e Sociais,
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Brasil
Recibido: 01/09/2021
Aceptado: 03/10/2021
Resumen
Neste artigo pretendo apresentar e discutir algumas mudanças de percepção do espaço e de escala na segunda década do século XXI para procurar entender o mundo antigo. Nosso mundo provocou uma mudança radical nos últimos anos na percepção das escalas, tanto nas relações espaciais (e temporais) do ser humano com o seu entorno, que analisamos sob a ótica do spatial turn, como nas diversas redes de sociabilidade, incluindo os círculos intelectuais. Como essas mudanças rápidas e profundas do nosso tempo afetam o nosso entendimento sobre o passado clássico? A reflexão sobre as novas visões de mundo produzidas pela vida cotidiana contemporânea mostra esse passado como radicalmente diferente do nosso, destacando também a sua historicidade e o caráter das diversas narrativas construídas sobre ele. Nesse sentido, o objetivo final aqui proposto é pensar o próprio ensino de História Antiga, área que diferencia tão claramente as sociedades no eixo do tempo.
Palabras clave: espacio, spatial turn, anacronismo
Understanding the scales and proportions of the ancient world in the 21st century
Abstract
In this article I intend to present and discuss some changes in the perception of space and scale in the second decade of the 21st century in order to try to understand the ancient world. Our world has provoked a radical change in recent years in the perception of scales in the spatial (and temporal) relations of human beings with their surroundings, which we analyse from the perspective of the spatial turn. This change also occurs in the various networks of sociability, including intellectual circles. How do these rapid and profound changes of our time affect our understanding of the classical past? Reflecting on the new worldviews produced by contemporary everyday life shows this past as radically different from ours, also through highlighting its historicity and the character of the various narratives built about it. In this sense, the final objective proposed here is to think about the teaching of Ancient History itself, an area that so clearly differentiates societies on the axis of time.
Keywords: space, spatial turn, anachronism
Para compreender no século XXI as escalas e proporções do mundo antigo
Em 1780 a Inglaterra dominava o mundo. Mesmo perdendo a sua principal colônia, que se tornaria os Estados Unidos, os ingleses já controlavam diretamente territórios ao redor de todo o planeta. Indiretamente, sua influência econômica e política se fazia valer com força, através do crescimento econômico inédito na história da humanidade ocasionado pela invenção da máquina a vapor e pela Revolução Industrial que essa invenção levou a ocorrer. No campo intelectual, as Ilhas Britânicas já tinham dado ao mundo nesse século Jonathan Swift, Daniel Defoe, David Hume e Adam Smith. Mas a cidade de Londres, então com aproximadamente 750 mil pessoas, ainda ocupava uma fração muito pequena do território que depois veio a ter. A região de Bloomsbury, onde hoje se encontram o Museu Britânico e a Universidade de Londres, era a divisa norte da cidade. Além da Montagu House, primeiro lugar que abrigou a coleção de curiosidades de Sir Henry Sloane e veio a se tornar o segundo museu público do mundo (depois do Ashmolean de Oxford), e da Southampton House, mansão construída em 1657 e adquirida por herança de casamento logo depois pelo Duque de Bedford, tudo era pasto e um pouco de charco. A família Russell, que hoje dá nome à Russell Square e ainda ostenta o título do Ducado de Bedford, demoliu em 1800 a sua mansão e construiu no terreno algumas ruas e blocos residenciais (Walford, 1878; Olsen, 1982). Logo depois a cidade passava da marca de um milhão de habitantes (Schwarz, 1992).
Hoje essa área é o que pode se considerar o centro de Londres, uma cidade atualmente com uma população de por volta de 9 milhões de pessoas. Por sua vez, o Rio de Janeiro tem hoje aproximadamente 7 milhões de pessoas, 13 milhões na região metropolitana. São Paulo, a maior cidade do Brasil, tem hoje quase a mesma população do Grande Rio. Mas por que eu comecei com Londres? Li sobre história da Bedford House e da área da Russell Square quando estive hospedada em um hotel ali, em um dos prédios germinados idênticos construídos pela família Russell em 1800. Considerando-se que duzentos anos depois eu estava situada em pleno coração da cidade, veio-me à mente uma constatação perturbadora: a de que eu não tinha ideia da escala das coisas do mundo de apenas dois séculos antes. Então isso queria dizer que o centro do mundo tinha uma capital que hoje para nós seria minúscula, e que terminava na roça já ali? O que dizer do Rio de Janeiro na época então, com pouco mais de 100 mil pessoas? (Cavalcanti, 2004; Abreu, 2013).
Depois desse prelúdio moderno, que me plantou a reflexão, podemos ir ao mundo antigo – sobre o qual, aliás, é largamente sabido da dificuldade de fazer quaisquer estimativas populacionais com um mínimo de precisão. Roma no período de Augusto teria tido um milhão de habitantes? (Lo Cascio, 2001; Scheidel, 2008) Ou a mesma população de Londres em 1780, ou seja, três quartos desse número? E o que dizer das poleis gregas, com a Atenas clássica talvez contendo por volta de 21 mil cidadãos, 10 mil metecos e 400 mil escravos, de acordo com Demétrio de Faleros, no final do século IV a.C. (Wees, 2011)? O número de escravos talvez seja fantasioso e exagerado, haja vista o pendor dos antigos por exagerar números – tais como os mais de dois milhões no exército persa, segundo Heródoto (VII, 185). Sequer sabemos se esses cidadãos eram o total, ou apenas os aptos ao serviço militar, e sabemos com menos certeza ainda o número de mulheres e crianças livres. O caso de Esparta é ainda mais extremo: segundo Heródoto, 4 mil peloponésios estavam prontos para a batalha em 480 (VII, 228), e 5 mil esparcíatas lutaram em Plateia (IX, 28).[1]
O que são 5 mil pessoas hoje? Só a minha universidade, a menor universidade federal do Estado do Rio de Janeiro, tem 5230 vagas oferecidas anualmente apenas em cursos de graduação, em um total de mais de 13 mil alunos matriculados e cursando (INEP, 2021). Números grandes também são comuns no Rio de Janeiro: vários blocos de carnaval, ou a parada LGBTQIA+, juntam facilmente um milhão de pessoas na rua. Esses números servem para ilustrar a questão que começou a me incomodar em Londres, e que tem me chamado a atenção constantemente desde então, em especial quando estou dando aula: será que nós hoje conseguimos compreender as escalas de tamanho do mundo antigo? Ou estamos irremediavelmente ligados a um mundo tão maior que temos, de fato, dificuldades para imaginar e conceber os significados e consequências de tamanhos tão diferentes para as questões que queremos examinar? Se estamos, como podemos nos dissociar de nossa percepção do mundo para entender essa diferença de escala? Ou isso é impossível?
O que eu quero dizer sobre esse mundo “tão maior” necessita de mais explicação. Em primeiro lugar, a questão do espaço propriamente dito –e, com ele, as questões demográficas. As relações políticas, sociais e econômicas são diretamente conectadas ao tamanho dos grupos que as determinam. O que significa um senado de 600 pessoas para dar conta de todo um império, que é o número da reforma de Augusto (Talbert, 1984; Brunt, 1984; Campos, 2019)? Não é de se admirar para nós que, mesmo com o inchaço burocrático que as fontes da Antiguidade Tardia apontam, o sistema da burocracia romana ainda não tenha conseguido dar conta de fazer funcionar e articular todo o território da Espanha ao Levante ao cabo do Império (Cecconi, 2005; Whitby, 2016). Nesse sentido, gosto de lembrar que a história dos impérios da Antiguidade, desde Sargão até os romanos, é uma história “acidental”: não havia um sistema que servisse de antemão de modelo para os bem-sucedidos reis conquistadores e que os “ensinasse” como administrar territórios cada vez mais imensos. É por isso, por exemplo, que o “império” de Sargão[2] foi tão efêmero (Liverani, 1993) e que um milênio e meio tenha se passado até que os impérios assírio, babilônico e persa tivessem um mínimo de estrutura administrativa que permitisse uma ocupação mais contínua e bem-sucedida de um vasto território (Garelli, 1974; Tuplin, 1987; Allen, 2005).
A operacionalidade da administração de uma polis também é um desafio para a nossa compreensão, não só porque as fontes são muitas vezes confusas ou omissas sobre isso. Se Atenas tinha 21 mil cidadãos, é importante lembrar que apenas um sétimo ou talvez um sexto desse número vivia de fato na área urbana da cidade durante o período de Clístenes (Rosivach, 1993; Moerbeck, 2009), em que 500 desses homens se reuniam na Boulé para legislar, administrar e aplicar as leis. Tal como para as tribos da Roma republicana, período aliás concomitante a esse de Atenas, não é uma tarefa fácil se deslocar para votar e participar da política no centro urbano. Demanda-se tempo e condições financeiras mínimas (Yakobson, 2006). Voltarei daqui a pouco à questão do deslocamento.
Outro aspecto disso é a própria relação geral entre cidade e campo, asty e chora, urbs e ager. Foi apenas agora no começo do século XXI que a população urbana do mundo suplantou a população rural (Department of Economic and Social Affairs, United Nations, 2018). Ora, quantos de nós, habitantes das grandes cidades, já não temos a menor ideia do que é o ritmo de vida no meio rural, das madrugadas já despertas na roça e dos afazeres artesanais de coisas que hoje são tão “naturalmente” industrializadas, como sabão e pão? Ou das relações interpessoais próximas, tanto via laços familiares quanto laços ligados à comunidade, em especial via comércio ou religião? Qual é o nome do seu vizinho?
As fontes também são capazes de nos enganar muito bem quando não prestamos atenção ao problema da escala. Embora no caso romano tenhamos números mais frequentes e talvez precisos da população, por causa do censo, mesmo assim não fica claro se o número total apontado pelas fontes se refere sempre à população como um todo, à população livre incluindo as mulheres e crianças, ou apenas aos homens livres aptos ao serviço militar, tal como vimos no caso de Atenas (Pieri, 1968). A Roma da primeira década de Tito Lívio, em constante guerra contra as cidades vizinhas, talvez não passasse de uma aldeia minúscula, dado, por exemplo, o tamanho do Palatino, que pode ser atravessado devagar em um par de horas. Escaramuças sazonais ritualizadas entre bandos armados com pouco mais do que lanças rústicas, espadas e fundas estão muito longe do texto virtuoso de Tito Lívio sobre as façanhas heroicas de Horácio Cocles ou do mini-exército dos Fábios –este mesmo, veja só, uma milícia.
Compreender as minúcias dessas relações é fundamental, por exemplo, para entender as relações de clientela no mundo romano, (Wallace-Hadrill, 1990; Venturini, 2001) em que as medidas individuais de prestígio e proteção estão no lugar das relações mediadas para nós pelas instituições, pelo Estado e pelo capital na sua forma tardia – cada vez mais predatória, excludente e cruel, por sinal. Ou talvez estejamos em uma posição privilegiada no Brasil para entender essas relações antigas, já que muitos sociólogos, antropólogos e historiadores sustentam que o Brasil nunca foi um país de fato inserido na modernidade, em que essas relações detêm um caráter impessoal fundacional, e que se mantém ainda imerso, afundado, preso na lama movediça dessas relações interpessoais intestinas, do “homem cordial”, da máfia que ao mesmo tempo é Estado, da milícia que também é governo (Tavolaro, 2005; Jacino, 2017).
Falar do significado do espaço físico para essas relações sociais e políticas não é novidade. É um dos pilares do pensamento de Fernand Braudel, por exemplo, e o estudo da geografia como parte do conhecimento histórico tem sido revalorizado na última década através do que se tem denominado de spatial turn (Kümin, Usborne, 2013; Löw, 2013), termo que remete propositalmente ao cultural turn. É fato que o eixo temporal predomina sobre o espacial quando se trata de estudar a história, mas foi no século XIX que o historicismo e a teleologia, que vinha desde Kant e Hegel, engoliram o eixo espacial, tornando a história europeia o eixo absoluto da história “universal”[3] e sua realização máxima, através da conquista do resto do mundo. Mesmo com uma consolidação já anterior da disciplina da Geografia, é no pós-guerra que o espaço começa a ser revalorizado – de fato, dentro do contexto do cultural turn. As experiências marxistas alternativas dos mapas subjetivos de Guy Debord na França dos anos 50, com o Guia Psicogeográfico de Paris, (Debord, 1957) se juntam a Foucault (2014) para valorizar o significado relacional do espaço com as ações humanas, seja pela sua configuração física propriamente dita, seja pela relação de pertencimento (ou não) do sujeito com o ambiente que o rodeia. A culminação dessas ideias no que se convencionou chamar de spatial turn, porém, está ligada estritamente ao contexto radical do século XXI no que tange à percepção de lugar, e aqui voltamos aos nossos problemas de perspectiva para entender o mundo antigo.
Ah, a globalização... Odiada pela extrema-direita, que entra em gritante contradição quando se diz liberal e não entende, ou não quer entender, que o capital já há tempos tem um fluxo que independe das nações; odiada pelos extremistas religiosos, que insistem em carregar a bandeira única da verdade em uma sociedade multicultural; almejada pelos grupos das pautas minoritárias, em uma liberdade de expressão que é, na verdade, liberal – ou até libertária; e desejada pela esquerda tradicional como parte da luta proletária mundial, mesmo que em última instância nada mais signifique do que a expressão máxima do capitalismo tardio. A globalização torna homogêneos os espaços, os lugares, cria o “não-lugar”, aquele que é idêntico em todas as partes do mundo e não tem, nem deve ter, expressão própria (Augé, 1994; Certeau, 1994). Os melhores exemplos de “não-lugar” são o shopping center, de arquitetura rigorosa e propositalmente similar, e, ironia das ironias, o aeroporto, ponto de partida e chegada dos deslocamentos de grande distância entre lugares, bem, diferentes. São não-lugares tão gritantes que alguém que acordasse do nada em qualquer shopping ou aeroporto do mundo, caso não reconhecesse a língua dos transeuntes (e pode ser qualquer uma em um aeroporto!), teria enorme dificuldade de reconhecer em que região ou que país está, tamanha a uniformidade das lojas e da arquitetura.
A globalização uniformizou o tempo, de maneira mais radical através da internet (tudo é live, é simultâneo), e o espaço, em um processo de duração mais longa que começa com a ferrovia e termina com as companhias aéreas de baixo custo, popularizando o acesso às viagens intercontinentais. Com esse caráter imediato do tempo e do espaço, juntamente com o aumento vertiginoso e exponencial da população e das aglomerações urbanas, fica muito mais difícil para nós entender as dificuldades de locomoção no mundo antigo – e não só o antigo, mas sim em todo o mundo antes desse processo de diminuição, muito recente, do tempo de deslocamento. O célebre relato de Heródoto sobre o soldado Fidípedes, que correu 42km entre Maratona e Atenas para dar a notícia da vitória ateniense sobre os persas e caiu morto de esgotamento (VI, 105-106) contrasta não só com a alta performance atual de maratonistas (ou do triatlo na modalidade Iron Man, que adiciona natação e corrida de bicicleta à maratona, sem interrupção), mas também com a noção que temos de distâncias. Em um raio de 42km do centro do Rio de Janeiro temos cidades como Queimados e Petrópolis, “facilmente” acessíveis em um pouco mais de uma hora de trem ou carro e trajeto diário e trivial para milhares de pessoas. Porém, lembremos que o “trivial” é relativo, e o que nos parece um hábito e elemento natural do cotidiano pode ser quase uma missão impossível, mudadas as circunstâncias -é só perguntar para quem se mudou da Baixada Fluminense ou de bairros distantes como Sepetiba para o centro do Rio.
Porém, no mundo antigo, deparamo-nos com categorias de deslocamento no espaço que a princípio podem nos parecer óbvias, mas nem sempre o são. “Perto” e “longe”, “rápido” e “devagar” muitas vezes significam coisas muito diferentes do que estamos acostumados, e é por isso que devemos nos deter com mais atenção a esse tipo de caracterizações nas fontes antigas. Os historiadores antigos usam comumente a retórica com o intuito de elevar (ou criticar) as virtudes de um determinado personagem, e isso pode acabar se refletindo em qualificações subjetivas de elementos exteriores objetivos. Amiano Marcelino, por exemplo, toma o imperador Juliano como arquétipo do personagem virtuoso e heroico, e por isso muitas vezes qualifica os deslocamentos de seu personagem preferido de uma maneira que não condiz com as distâncias reais. No início do livro 16, quando Juliano está na Gália e passa por diversas cidades tentando controlar os rebeldes locais (Matthews, 2007), distâncias podem parecer longas ou curtas de acordo com a caracterização do seu herói. Em 16.2.1, Juliano está passando o inverno (dezembro a março) na cidade de Vienna (Vienne) e decide conter o avanço dos rebeldes gauleses contra as muralhas de Augustodunum (Autun): “Assim sendo, sem descartar seus cuidados e ignorando a adulação servil com que seus cortesãos tentavam levá-lo ao prazer e à luxúria, e depois de fazer os preparos adequados, chegou a Augustodunum no dia 24 de junho”.[4] Ou seja, são pelo menos três meses de uma viagem de 225 km (150 milhas romanas), de acordo com o Itinerarium Antonini Augusti. Por outro lado, o trecho entre Autun e Auxerre (84 milhas romanas, ou 126 km) foi percorrido rapidamente,[5] de maneira “audaz” pelo imperador, pois o objetivo era mostrar que ele era tão ou mais corajoso e intrépido do que o usurpador Silvano, que havia há pouco feito a mesma difícil rota.
Não apenas a percepção antiga de deslocamento no espaço nos parece muito diferente, mas também os diferentes espaços da vida cotidiana. Em todo o mundo pré-moderno, outro aspecto que parece nos fugir quase que totalmente é a dependência da luz do dia para as atividades cotidianas. É certo que havia várias formas de iluminação noturna, e vale sempre lembrar que a produção de azeite em toda a faixa geográfica do Mediterrâneo era importante não apenas para a alimentação, mas também para uso nas lamparinas usadas na iluminação noturna (Moullou, 2015). Mas o medo da noite, da escuridão e do desconhecido, juntamente com o refúgio que a noite trazia para todo tipo de transgressão (Edensor, 2015), foram essenciais na vida humana até o advento da iluminação artificial. A escuridão é parte integrante da relação humana com a natureza e o divino, e se reflete na ritualização religiosa da relação entre a vida e a morte (Boutsikas, 2017; Hosny, 2020). Já para a grande maioria das pessoas no mundo atual, o acesso à luz elétrica é visto como um direito fundamental, senão como uma parte integrante instintiva da vida – não apenas para oferecer luz à noite ou permitir o funcionamento da geladeira, mas, talvez principalmente, para recarregar o celular.
Esse exame do trivial é um exercício de antropologia, mas também um exame de si. Retomo como exemplo esse que eu creio ser o instrumento mais emblemático da globalização, o telefone celular. Mais do que a internet, o celular (na verdade o smartphone, o telefone “espertinho”) achatou tempo e espaço, até porque hoje a internet é apenas o conteúdo da forma que é o aparelho. A ubiquidade de sua posse, que decretou o fim do telefone público e da lan house, o computador coletivo da comunidade, determina a disponibilidade imediata e absoluta não só da informação ilimitada, embora a ela preferimos memes e fotos de gatinho, mas também da própria possibilidade de localização da pessoa. Com o celular, estamos disponíveis e podemos ser localizados e contatados o tempo inteiro. Isso é inédito na história da humanidade, e inédito até para nossa memória até a pouco tempo atrás – todos menos a geração mais recente ainda lembram de um mundo em que estávamos livres no deslocamento pelo espaço, incapazes de sermos encontrados até que o quiséssemos (comprando a ficha para o telefone público, combinando horários de chamada com a vizinha que tinha um telefone fixo). Esse talvez seja o não-lugar total, e daqui a pouco não saberemos mais como é a vida no mundo em que não podemos ser instantaneamente encontrados (Harris, 2014).
Um último ponto de comparação e estranhamento entre mundos não pode ser deixado de lado, que é a epidemia da Covid-19, a partir da virada do ano de 2019 para 2020. Pela primeira vez a humanidade sofreu uma pandemia total, abarcando todos os países numa velocidade estonteante, com uma questão de dias até que novas variantes dos vírus se propagassem em diferentes continentes, desafiando todas as predições científicas e de barreiras territoriais. Nunca antes o planeta todo precisou se alinhar simultaneamente nas mesmas políticas de restrições de deslocamento, de isolamento social e mesmo da troca de conhecimento científico, que permitiu que se diminuísse de dez anos para um a criação e distribuição de vacinas para um vírus antes desconhecido. Trancadas em casa, muitas pessoas descobriram que podiam se encontrar e trabalhar remotamente; é surpreendente perceber que a tecnologia de que precisavam já estava ali há anos, mas nunca havia sido demandada em tal escala, e assim tudo pareceu novo, estranho e difícil. Admito que ainda é difícil entender as amplas consequências dessa nova percepção de escala, mas algo me diz que a partir de agora todas essas percepções serão novas – mais novas ainda do que as que enumerei até agora.
Dada a demarcação de toda essa radical diferença em relação ao mundo antigo, a pergunta que se faz é se nós de fato estamos nos tornando progressiva e rapidamente incapazes de entendê-los. Como especialista em historiografia, já adianto que o primeiro passo necessário é reconhecer, assumir e delimitar esse problema e os riscos do anacronismo que muito certamente, para ser realista, cometeremos (Loreaux, 1992). Ao mesmo tempo, para retomar um pouco um certo otimismo de ver semelhanças do mundo brasileiro com os antigos, gostaria também de lembrar que nossa posição periférica pode ser uma vantagem. Estamos para o mundo europeu e estadunidense tal como um bretão civilizado estava para o romano da capital. Para Tácito, é claro, isso não necessariamente significaria uma coisa boa para os bretões: “passo a passo, [...] sendo levados a tudo ao que leva ao vício, aos pórticos, aos banhos e ao luxo dos banquetes. Tudo isso, em sua ignorância, chamaram de cultura (humanitas), quando era nada mais do que uma parte da sua escravidão.” (Agricola, 21). Mas a falta de modernidade nas relações sociais e para-institucionais no Brasil, a disparidade brutal de renda, o legado da escravidão e até mesmo as longas distâncias, tudo isso contribui para que, de uma maneira surpreendente para muitos, tenhamos uma legitimidade ímpar, sui generis na interpretação do passado antigo.
Nosso caráter periférico ainda traz mais uma semelhança, que é o último ponto sobre escalas no mundo antigo que quero tratar. Aqui ainda trato de espaço, mas de um espaço mais amplo e mais interpessoal do que físico, que são as redes de sociabilidade –
notadamente intelectual, as que me interessam mais no momento. No mundo antigo era bastante fácil ao autor ter uma dimensão direta de quem é o seu público, por causa das leituras coletivas, em voz alta, feitas nos círculos sociais restritos da elite – aqui estou pensando particularmente na elite romana, das quais sabemos mais nesse quesito (Salles, 2008; Johnson & Parker, 2009). Devido à diminuta oferta do que podemos, mutatis mutandis, chamar de mercado editorial, o público-alvo de um historiador era o mesmo círculo social ao qual ele pertencia – um grupo que, portanto, reconhece e acolhe sua identidade, pois legitimada como parte do mesmo ethos da audiência. Nesse âmbito, fica relativamente fácil abarcar toda uma tradição do gênero literário, do cânone a partir do qual o autor irá produzir sua obra, dialogando com as formas e usando o conteúdo do gênero consolidadas no passado. Era também diminuto, portanto, o segmento da audiência que iria dialogar com o autor, tanto a imediata quanto a posterior.
O ponto a que eu quero chegar é que, por muito tempo, cada autor que dialogava com seus predecessores conseguia ter uma capacidade razoável de dominar com grande e bem-sucedido grau de completude o conjunto da discussão sobre o assunto que estava expondo. Ou seja, a escala da rede intelectual era pequena o suficiente para que os autores a dominassem satisfatoriamente como um todo. Isso era verdade não só no mundo antigo, malgrado as dificuldades de circulação de pergaminhos, sobre a qual na verdade sabemos muito pouco, mas até mesmo em Londres, a pequena “capital” do mundo em 1780.
Porém, também em meados do século XX essa escala começou a tomar proporções inauditas, com um crescimento exponencial do número de autores – inclusive, quero lembrar a inserção dos periféricos, ou seja, nós, que é recente – para cada assunto a ser estudado. O diálogo com a produção precedente passa a se tornar apenas um pequeno recorte no mar de especialistas, que proliferam como algas (ou talvez como plástico) em todo o oceano. É simplesmente impossível hoje dominar toda a literatura sobre um determinado assunto, como era há até meio século atrás. O que fazer, então?
A solução que tendo a promover está diretamente ligada a essa diferença do nosso mundo na percepção do espaço e do tempo, através da globalização e do não-lugar, e até mesmo da hiperconexão constante que o mundo pós-Covid nos impôs, que são as redes de colaboração coletiva e horizontal. Admito que nada é mais estranho ao introspecção intelectual de humanidades do que redes como essas, mas acredito que é apenas através de um trabalho em rede, em um grupo coordenado através de uma combinação de objetivos comuns e particulares, que é possível abarcar o possível de uma infinidade de produções intelectuais de todas as origens e matizes. São também essas redes de diálogo e de construção coletiva, quando maiores do que as bolhas que juntam os iguais dentro de um mesmo universo sócio-geográfico e/ou intelectual, que nos permitem ver além do nosso próprio entendimento do mundo e da percepção de escalas. Afinal de contas, todo o universo contemporâneo que citei aqui sempre vem do nosso próprio universo específico – e o meu pode ou não ser parecido com o seu.
Bibliografía
Abreu, Mauricio de (2013). A evolução urbana no Rio de Janeiro. 4ª edição. Río de Janeiro: Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos.
Allen, Mitchell (2005). Power is in the details: Administrative technology and the growth of ancient near eastern cores. En Chase-Dunn, Christopher y Anderson, Eugene (Ed.). The Historical Evolution of World-Systems (pp. 75-91). New York: Palgrave Macmillan.
Augé, Marc (1994). Não-lugares: Introdução a uma antropologia da supermodernidade. Campinas: SP: Papirus.
Boutsikas, Efrosyni (2017). The role of darkness in ancient Greek religion and religious practice. En Papadopoulos, Costas y Moyes, Holley (Ed.). The Oxford Handbook of Light in Archaeology. Oxford University Press.
Brunt, Peter (1984). The role of the Senate in the Augustan regime. The Classical Quarterly, Vol. 34, N° 2, pp. 423-444.
Campos, Carlos Eduardo da Costa (2019). O princeps Otávio Augusto e a sua trajetória no poder romano: considerações sobre suas funções no consulado e no senado (I AEC – I EC). Revista Diálogos Mediterrânicos, N° 16, pp. 5–21.
Cavalcanti, Nireu (2004). O Rio de Janeiro setecentista: a vida e a construção da cidade da invasão francesa até a chegada da Corte. Rio de Janeiro: Zahar.
Cecconi, Giovanni (2005). Conscience de la crise, groupements de pression, idéologie du beneficium: l’État impérial tardif pouvait-il se réformer? Antiquité tardive, N° 13, pp. 281-304.
Certeau, Michel de (1994). A invenção do cotidiano: Artes de fazer. Petrópolis: Vozes.
Debord, Guy (1957). Guide psychogéographique de Paris. Discours sur les passions de l’amour. Pentes psychogeographiques de la dérive et localisation d’unités d’ambiance.. Kopenhagen: Permild & Rosengreen.
Department of Economic and Social Affairs, United Nations. (2018). 68% of the world population projected to live in urban areas by 2050, says UN. United Nations. Recuperado de: https://www.un.org/development/desa/en/news/population/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html. Consultado: 03/11/2021.
Edensor, Tim (2015). Introduction to geographies of darkness. Cultural Geographies, Vol. 22, N° 4, pp. 59–565.
Foucault, Michel (2014). Vigiar e punir. Petrópolis: Vozes.
Garelli, Paul (1974). Remarques sur l'administration de l'empire assyrien. Revue d'Assyriologie et d'archéologie orientale, Vol. 68, N° 2, pp. 129-140.
Godley, Alfred (1925). Herodotus. VI - IX. Cambridge, Ma: Harvard University Press.
Harris, Michael (2014). The end of absence: Reclaiming what we've lost in a world of constant connection. New York: Penguin.
Hosny, May (2020). Light, Darkness and Shadow in ancient Egypt. Journal of Association of Arab Universities for Tourism and Hospitality, Vol. 18, N° 3, pp. 35-49.
Hutton, Maurice & Paterson, William (1914). Tacitus. Agricola. Germania. Dialogus. Cambridge, Ma: Harvard University Press.
INEP - Ministério da Educação. (2021). Relatório Consolidado da IES (2019). PROPLAN - UNIRIO. Recuperado de: http://www.unirio.br/proplan/dainf/copy_of_ConsolidadoIES.pdf. Consultado: 03/11/21
Jacino, Ramatis (2017). Que morra o “homem cordial” - crítica ao livro Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. Sankofa (São Paulo), Vol. 10, N° 19, pp. 33-63.
Johnson, William & Parker, Holt (Eds.). (2009). Ancient literacies: the culture of reading in Greece and Rome. Oxford: Oxford University Press.
Kümin, Beat & Usborne, Cornelie (2013). At home and in the workplace: A historical introduction to the “spatial turn”. History and Theory, Vol. 52, N° 3, pp. 305-318.
Liverani, Mario (1993). Akkad: The first world empire: structure, ideology, traditions. History of the Ancient Near East/Studies V. Padova.
Lo Cascio, Elio (2001). La population. Pallas, N° 55, pp. 179-198.
Loreaux, Nicole (1992). Elogio do anacronismo. En Novaes, Adauto (Org.) Tempo e História (pp. 57-70). São Paulo: Companhia das Letras.
Löw, Martina (2013). O spatial turn: para uma sociologia do espaço. Tempo social, N° 25, pp. 17-34.
Marques, Juliana Bastos (2009). Muito além da geografia: o espaço cognitivo de Amiano Marcelino. Classica - Revista Brasileira de Estudos Clássicos, Vol. 22, N° 1, pp. 148-160.
Matthews, John (2007). The Roman Empire of Ammianus. Michigan: Classical Press.
Moerbeck, Guilherme (2009). O Campo Político de Atenas no século V a. C. Phoînix, Vol. 15, N° 1, pp. 114-134.
Moullou, Dorina (2015). Lighting night-time activities in antiquity. En Micheli, Maria Elisa & Santucci, Anna. (a cura di). Lumina. Convegno Internazionale di Studi Urbino 5-7 giugno 2013. Brossura: ETS.
Odfather, Charles (1946). Diodorus Siculus. History. Vol. IV. Cambridge, Ma: Harvard University Press.
Olsen, Donald (1982). Town planning in London. New Haven: Yale University Press.
Pieri, Georges (1968). L'Histoire du cens jusqu'à la fin de la république romaine. Publications de l'Institut de droit romain de l'Université de Paris, xxv. Paris: Sirey.
Rolfe, John (1950). Ammianus Marcellinus. History. Vol. I-III. Cambridge, Ma. Harvard University Press.
Rosivach, Vincent (1993). The distribution of population in Attica. Greek, Roman, and Byzantine Studies, Vol. 34, N° 4, pp. 391-407.
Rubincam, Catherine (2012). The ‘Rationality’ of Herodotus and Thucydides as Evidenced by Their Respective Use of Numbers. En Foster, Edith & Lateiner, Donald (Ed.). Thucydides and Herodotus (pp. 97-122). Oxford: Oxford University Press.
Salles, Catherine (2008). Lire à Rome. Paris: Les Belles Lettres.
Scheidel, Walter (2008). Roman population size: the logic of the debate. Princeton/Stanford Working Papers in Classics Paper, N 070706, pp. 1-37.
Schwarz, Levine (1992). London in the age of industrialisation: entrepreneurs, labour force and living conditions, 1700-1850. Cambridge: Cambridge University Press.
Taagepera, Rein (1978). Size and duration of empires: systematics of size. Social Science Research, Vol. 7, N° 2, pp. 108-127.
Talbert, Richard (1984). Augustus and the Senate. Greece & Rome, Vol. 31, N° 1, pp. 55-63.
Tavolaro, Sergio (2005). Existe uma modernidade brasileira? Reflexões em torno de um dilema sociológico brasileiro. Revista Brasileira de Ciências Sociais, N° 20, pp. 5-22.
Tuplin, Christopher (1987). The administration of the Achaemenid Empire. En Carradice, Ian (Ed.). Coinage and administration in the Athenian and Persian empires (pp. 109-166). Oxford: Oxford University Press.
Van Wees, Hans (2011). Demetrius and Draco: Athens' property classes and population in and before 317 BC. The Journal of Hellenic Studies, N° 131, pp. 95-114.
Venturini, Renata Lopes Biazotto (2001). Amizade e política em Roma: o patronato na época imperial. Acta Scientiarum. Human and Social Sciences, N° 23, pp. 215-222.
Walford, Edward (1878). Russell Square and Bedford Square. Old and New London, Vol. 4, pp. 564-572.
Wallace-Hadrill, Andrew (1990). Patronage in Ancient Society. London and New York: Routledge.
Whitby, Michael (2016). The Late Roman Empire was before all things a bureaucratic state. En Crooks, Peter & Parsons, Timothy (Ed.). Empires and bureaucracy in world history: from Late Antiquity to the twentieth century (pp. 129-146). Cambridge: Cambridge University Press.
Yakobson, Alexander (2006). Popular power in the Roman Republic. En Rosenstein, Nathan & Morstein-Marx, Robert (Eds.). A Companion to the Roman Republic (pp. 383-400). Wiley-Blackwell.
⌘
Juliana Bastos Marques es profesora asociada de Historia Antigua y actual coordinadora del curso de pregrado de Historia en la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro (UNIRIO). Licenciada en Historia por la Universidad de São Paulo, con doctorado en la misma institución, publicó su tesis en 2012, titulada Tradição e renovações da identidade romana em Tito Lívio e Tácito. Su campo de estudio se centra en las áreas de historiografía, teoría de la historia, historia pública digital y recepción de la tradición clásica. Fulbright Fellow (2017) en la Florida State University y Newton Fellow (2018-2020) en la Newcastle University.
Pasado Abierto, Facultad de Humanidades, UNMDP se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional.
[1] Os números são confusos e diferem em muitos detalhes dos números dados por Diodoro Sículo (XI, 4), a outra fonte principal sobre os números dos exércitos nas batalhas de Termópilas e Plateia. Para uma discussão sobre o uso dos números em Heródoto, ver Rubincam (2012).
[2] Estimado em aproximadamente 600 mil km2 (Taagepera, 1978), uma área um pouco maior do que o Estado de Minas Gerais.
[3] Há de se notar que essa megalomania da nomenclatura é tão grande que sequer se trata de uma história planetária.
[4] “Nihil itaque remittentibus curis, ancillari adulatione posthabita, qua eum proximi ad amoenitatem flectebant et luxum, satis omnibus conparatis octavum kalendas Iulias Augustudunum pervenit velut dux diuturnus...”.
[5] Como referência, Vegécio, De re militari, 9, cita a média de 24 milhas romanas a cada 5h no verão para uma marcha puxada da infantaria; ou seja, sem interrupções, seriam 18 horas de Autun a Auxerre.
Enlaces refback
- No hay ningún enlace refback.
Copyright (c) 2021 Pasado Abierto

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional.
 |
ISSN 2451-6961 (en línea)
|
| Revista Incluida en: | |
| ROAD https://portal.issn.org/resource/ISSN/2451-6961 |
| LatinREV https://latinrev.flacso.org.ar/mapa |
| Latindex Directorio https://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=26011 |
| Google Académico Link |
| BASE (Bielefeld Academic Search Engine) Link |
 | Latinoamericana(Asociación de Revistas Académicas de Humanidades y Ciencias Sociales) Link |
 | MIAR (Matriz de Información para el Análisis de Revistas) Link |
 | SUNCAT Link |
 | WorldDCat Link |
 | Actualidad Iberoamericana Link |
| OAJI (Open Academic Journals Index) Link |
| CZ3 Electronische Zeitschriftenbibliothek Link |
| Europub (Directory of Academic and Scientiic Journals) Link |
| Open Science Directory Link |
| EC3 metrics Link |
| Root Indexing Link |
| JournalsTOCs Link |
| Scientific Indexing Services Link |
| Citefactor (Directory Indexing of International Research Journals) Link |
| Malena Link |
| Evaluada por: | |
 | Latindex Catálogo 2.0 Link |
 | Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas Link |
 | DOAJ (Directory of Open Access Journals) Link |
 | ERIHPLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences) Link |
 | REDIB (Red Iberoamericana de Innovación y conocimiento Científico) Link |
 | CIRC (Clasificación Integrada de Revistas Científicas) Link |
| Pasado Abierto utiliza el identificador persistente: | |
|











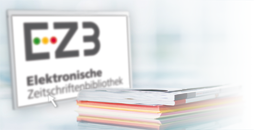








.png)